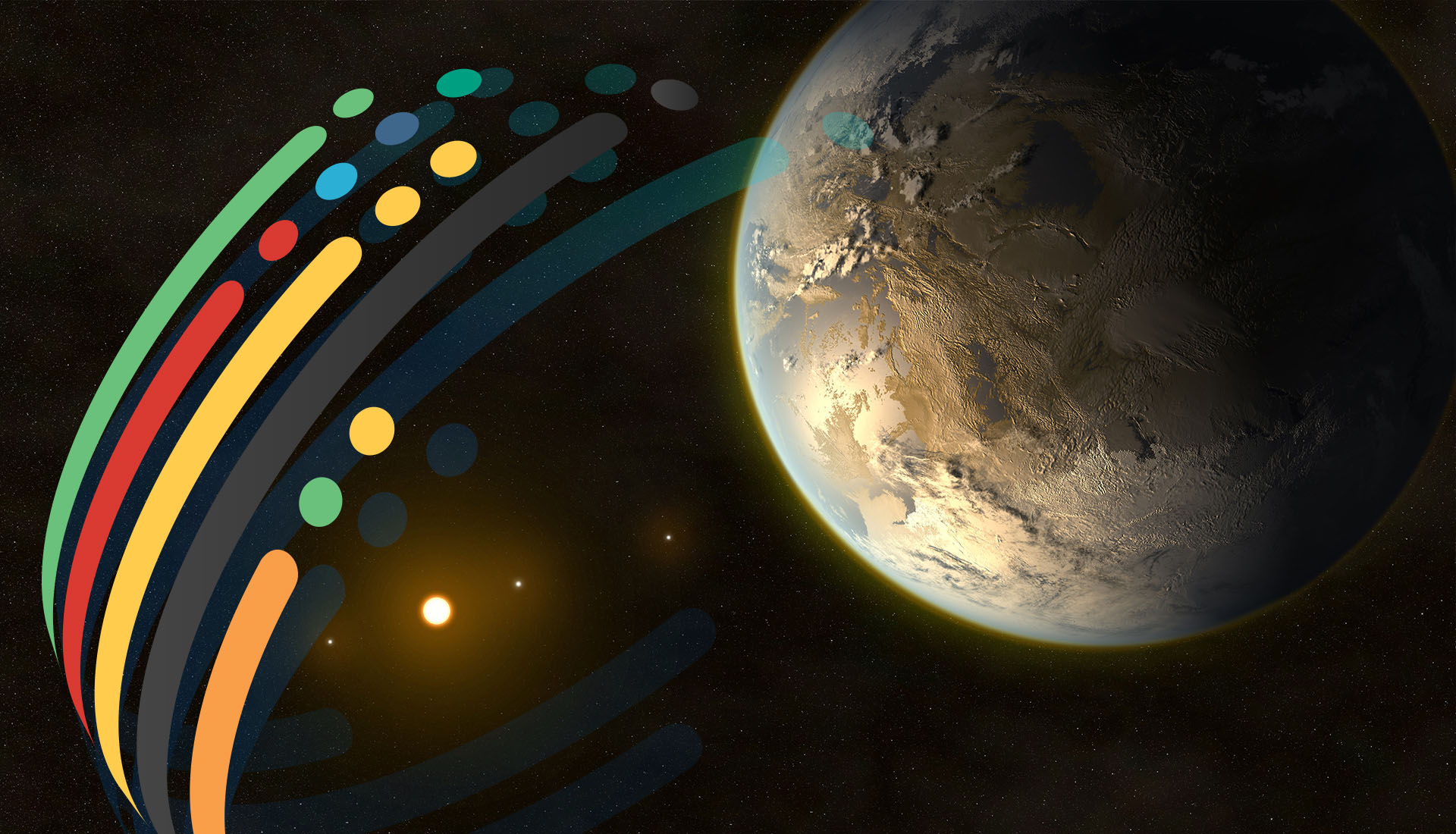A celebrar quatro décadas de carreira, com espetáculos nos coliseus de Lisboa (ontem) e do Porto (hoje), Tito Paris, ícone da música cabo-verdiana, revela ao NOVO a sua história, desde os dias em que achava que não sabia cantar até ao que tem previsto, “se Deus quiser”, para daqui a dez anos.
Foi num banco de jardim em frente ao Teatro Lanterna Mágica, no Alvito, que Tito Paris falou ao NOVO, a menos de 24 horas do primeiro concerto de celebração dos 40 anos de carreira. Nas nossas costas, os músicos esperavam, no interior do teatro, pelo rei da morna para ensaiar. À nossa frente, o Cristo Rei e o Tejo como testemunhas. Foram 25 minutos, mas podiam ter sido muitos mais… pois as histórias de Aristides Paris brotam como cogumelos. Uma figura!
Está a festejar 40 anos de carreira. O que lhe vem à cabeça destas quatro décadas?
Experiências, aeroportos, hotéis e muitas amizades.
E boas memórias?
Muito boas memórias.
A história começa quando tinha nove anos, numa família de músicos…
O meu pai tinha um grupo. Ele era embarcadiço e, quando ia de férias, tinha lá o grupo dele, os instrumentos e de férias fazia umas festas, os bailes. E a minha irmã é que me ensinou o primeiro acorde de guitarra. A partir daí… o meu pai, depois, embarcou e disse: “Os instrumentos ficam para vocês.” E formámos um grupo quando éramos pequenos. O meu irmão mais velho dirigia-nos e assim foi crescendo. E, na altura, tocava o quê? Tocava baixo. Tocava guitarra baixo. Mais tarde, quando vim para Portugal, puseram-me a tocar bateria.
Já lá vamos. Quando veio para Portugal, aos 19 anos, que sonhos tinha?
O que está a acontecer hoje. Cantar pelo mundo. Não vou dizer ser famoso, mas sim, sonhava ser conhecido, dar a conhecer a cultura cabo-verdiana. Quando cheguei aqui encontrava um grupo de Angola e eram só angolanos, de Cabo Verde eram só cabo-verdianos, de Portugal eram só portugueses. E eu achava isso mal, porque entendia que se nos misturássemos podíamos dar muito mais do que aquilo que nós pensávamos. Eu nunca fui uma pessoa reservada só para a minha cultura. Quem não gosta da cultura do outro povo é porque não gosta da sua própria cultura. É o que eu penso. A primeira fusão que aconteceu no meu grupo foi a fusão humana. Fui buscar angolanos, guineenses, portugueses. E assim formei um grupo com uma sonoridade fantástica.
Desses sonhos que tinha quando chegou a Portugal, qual é aquele que está por concretizar?
Muitos. [risos] Como sabe, o sonho é infinito. Tenho os meus sonhos, mas não gosto de falar sobre isso. O segredo é a alma do negócio, mas tenho sonhos para concretizar se viver mais tempo.
Quando veio para Portugal foi a convite do Bana. Pensava que vinha tocar baixo, mas acabou por ser baterista.
Foi uma surpresa grande. Quando cheguei, o Paulino Vieira, o mestre, o líder do grupo Voz de Cabo Verde, disse-me: “Tu vais tocar bateria porque temos aqui um grande baixista.” E realmente era um extraordinário baixista, um dos melhores de Cabo Verde na época, o Bebeto (vem de Humberto). E eu disse: “Ó Paulino, mas eu nunca toquei bateria na minha vida.” Devo dizer que em 25 dias, um mês, já estava a tocar. E assim estive dois anos e meio. Gravei 25 discos a tocar bateria. Sabe, ainda ontem estava a ouvir um cantor cabo-verdiano e eu disse para mim: “Sou eu a tocar bateria.” Entretanto mandei vir o meu irmão, que era baterista profissional, e ele ficou no meu lugar. E eu fiquei sem funções no grupo.
E depois?
Depois? Fiquei sem fazer nada. Fomos para a Holanda fazer um tour: Espanha, Bélgica, Holanda. Depois tínhamos regressado da Holanda para tocar outra vez na Bélgica, só que, quando chegámos – isto em 1983 ou 1984 – o baixista do grupo, o Bebeto, desapareceu. Ninguém o viu. Foi a minha sorte. E nós, quando fomos tocar à Bélgica, o Paulino disse-me: “Agora, já sabes que és tu que vais tocar baixo.” E então comecei a tocar baixo, a tentar apanhar e ouvir a linha do Bebeto. Quando viemos para Portugal fiquei como baixista do grupo.
Sabia o que vinha encontrar em Portugal?
Devo dizer que apanhei muitas surpresas por aqui. Não sabia o que vinha encontrar, porque vinha de uma cidade muito pequena. O Mindelo devia ter 50 mil, 60 mil pessoas. E encontrei uma cidade como Lisboa, grande, com muitos carros, com os sinais vermelhos. Lembro-me que quando cheguei ao aeroporto, eu e o meu compadre Toy Vieira entrámos no táxi e o táxi parou. E eu perguntei: “Ele está parado porquê?” Depois viemos a saber que estava parado por causa dos semáforos, coisa que não havia em Cabo Verde. E eu disse: “Uma pessoa está numa cidade organizada, uma cidade boa.” Mas, para ser franco, não gostava de Lisboa. Era muito confuso para mim. E cheguei a dizer para mim mesmo que devia regressar a Cabo Verde. O Paulino dizia-me: “Estás doido, estás aqui, o que vais fazer em Cabo Verde?” Eu não sabia, mas queria voltar. Quatro meses depois fomos tocar em Cabo Verde, a acompanhar o Bana, e quando cheguei percebi que estava bem em Lisboa. Comecei a gostar, a apaixonar-me, e hoje sou, posso dizer, um apaixonado nato por Lisboa. E por Portugal. Fiquei tão apaixonado por Lisboa que estou aqui há 42 anos, praticamente.
Sente-se mais português ou cabo-verdiano?
O meu coração está lá, a minha alma está cá. Estou dividido. O que eu sei é que o que aprendi foi aqui. Tenho grande respeito por Portugal e pela cultura portuguesa. Mas também amo muito a minha terra e o meu país. Toca piano, cavaquinho, baixo, clarinete, guitarra acústica, mas o seu grande instrumento é essa voz rouca completamente inconfundível…
Está certo. A minha voz é uma voz natural. Lembro-me que, quando comecei a cantar, toda a gente dizia que eu tinha uma voz estranha, diferente. O meu pai dizia-me: “Tenta limpar essa voz, está muito rouca.” E eu respondia: “Mas eu não consigo.” Devo dizer que estou muito grato a duas pessoas que me ensinaram muito em termos de canto, o Paulino Vieira e o Dany Silva. Incentivaram-me a ir para a frente.
Sente que sem essa voz a sua carreira teria sido a mesma?
Eu penso que não, sem esta voz tão característica era um cantor…
Normal?
Normal. Mas aprendi muito em termos de colocação, a extensão, as técnicas. Muitas pessoas perguntam-me onde estudei e eu respondo que o meu professor sempre foi o Paulino. Ganhei tanto gosto por cantar e preocupação em ser afinado que sou o cantor que sou hoje.
Canta muito em crioulo e em português mais quando faz parcerias. É um estilo de que não quer abdicar?
Como sabe, crioulo é a minha língua-mãe e, falando na língua-mãe, a expressão é maior. Quando falamos na nossa língua, a doçura é maior, a mensagem chega mais rápido. E há palavras em crioulo que não têm tradução para português. Uma pessoa fica um bocadinho assim para ver “como é que eu vou dizer essa frase em português?”. Quase que não existe.
Pensa em crioulo?
Penso tudo em crioulo. Mas depois ponho em português.
O seu primeiro álbum, “Fidjo Maguado”, foi totalmente instrumental porque, alegadamente, dizia que não sabia cantar.
É verdade. Fiz esse primeiro álbum tocando quase todos os instrumentos menos violino. Foi em 1985. Julgava que não sabia cantar, mas pensei que podia gravar músicas que já toda a gente conhecia, mas tocadas em piano e guitarra. Tinha muita vontade de fazer esse trabalho. E consegui concluir. E esse trabalho foi muito bem aceite na comunidade lusófona. É um disco todo seguido de mornas e ainda hoje entro num sítio, ouço esse disco a tocar e as pessoas não sabem que é meu.
E quando se convenceu de que sabia cantar?
Numa vez em que fomos à Holanda, naquela altura em que o Bebeto saiu do grupo. Fomos cantar a um espaço privado e o Paulino Vieira pediu-me para cantar, uma vez que já fazia coro. E eu disse: “Paulino, eu não sei cantar.” Mas pelo respeito que tinha, e tenho, por ele, cantei. Ele só me dizia: “Canta só.” As pessoas começaram a olhar para mim, fiquei com vergonha e dizia para mim mesmo que as pessoas não estavam a gostar. Fomos tocar a outros sítios e ele dizia-me a mesma coisa. E assim sucessivamente. Mais tarde, quando fui trabalhar com o Dany Silva, ele incentivou-me muito mais ainda. O Dany dizia ao grupo todo que eu, além de ser guitarrista, também cantava.
E começou a convencer-se.
E comecei a convencer-me de que realmente podia fazer alguma coisa com a voz. Chegou a uma altura em que o Dany me disse que era tempo de eu ter o meu grupo. E assim fiz. E deu certo.
Como compositor, também se destacou. Escreveu para Bana, para Cesária Évora, e produziu inclusivamente o seu primeiro disco.
Claro que sim. Em 1985. Quando o Bana disse que seria eu a produzir o disco da Cesária fiquei muito contente, porque ele sentia que eu era capaz. É uma grande honra ter produzido o primeiro disco da Cesária Évora. E sinto um orgulho imenso por ter visto a Cesária chegar onde chegou.
Prefere escrever ou cantar?
As duas coisas.
Não tem uma preferência?
Não. Às vezes escrevo muito no avião. Quando viajo, puxo aquela mesinha das costas do passageiro que vai à frente…. Tenho muitas coisas escritas que vou musicando, musicando, musicando.
Que evolução viu na música africana nestes 40 anos?
Eu acho que a música africana sofreu… não estou a falar com negatividade, mas a sonoridade africana… hoje usa-se muito a bateria eletrónica.
Não gosta?
Não gosto muito, mas respeito quem gosta. Temos ritmos fantásticos em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, onde ainda se produz ritmo com cheiro da terra. E isso está a perder-se, o que é muito mau. Mas temos grandes cantores africanos que são fantásticos e de quem sou fã.
Por exemplo?
Sou fã do Paulo Flores, do Bana, do Justino Delgado, que é um grande cantor, terra-terra. Sou fã da Sara Tavares, que produz algo diferente, mas em que se nota a raiz e a essência africana. Sou fã de vários cantores, uns de que gosto e outros que respeito.
Como sente que o seu país o vê? Sente-se uma bandeira de Cabo Verde?
Não sei bem. Já não canto em Cabo Verde há muitos anos. Sabe que sou uma pessoa muito crítica, sou um ativista. Os africanos não gostam muito disso.
Mas é por isso que não canta há muitos anos no seu país?
Para já, não sou convidado há algum tempo. Se calhar, é castigo.
Mas quer voltar a cantar em Cabo Verde?
Eu vou lá sempre e digo o que eu quiser porque ninguém paga as minhas contas. Falo o que eu quiser, não há problema nenhum. Canto na minha casa que tenho lá, com os meus amigos. Fazemos lá umas noites porreiras.
Entretanto desviou-se e não respondeu se se sente uma bandeira de Cabo Verde.
Eu acho que sim. Há muitas pessoas que me respeitam, outras que nem por isso. Mas há muitos que me respeitam pela carreira que tenho. Quando olham para a minha carreira dizem: “Espera aí, espera aí, não podemos falar muito porque ele lá chegou.” Portanto, é isso. Mas também não estou incomodado.
A música para si é um elo que une os PALOP?
Os PALOP estão a dormir muito no que diz respeito à música dos nossos países. Porquê? Porque a lusofonia deveria ser vista como a União Europeia. Para já, falta uma bandeira lusófona, que não existe. Falta aos cidadãos lusófonos – de Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé, etc. – chegarem a Portugal quando vêm de qualquer país europeu e passarem. Isso ainda não existe. Os ministros da Cultura deviam proteger mais os seus artistas na Europa. Somos nós que transportamos as mensagens dos nossos países pelo mundo fora. Os grandes cantores, respeitados pelo mundo, deveriam ter um passaporte de serviço ou diplomático. São embaixadores do seu país. Eu tenho passaporte diplomático de Cabo Verde, felizmente, mas há outros que não têm. Os ministros da Cultura dos PALOP deviam ter uma reunião e dizer basta, vamos promover a cultura dos nossos países juntos. Mas primeiro tem de haver uma bandeira, a bandeira da lusofonia. Sem essa bandeira, que é uma bandeira de união, como a União Europeia tem, não vamos a lado nenhum. Há mais de 15/20 anos e ninguém tem inspiração para fazer a bandeira da lusofonia. É uma vergonha, quando um angolano vai a Cabo Verde, ter de responder a perguntas sobre o que vai fazer no país. Eu teria vergonha de ver um grande cantor lusófono, na minha embaixada, sentado à espera de um visto. Isso tem de acabar. Nós somos livres, nós cantamos, nós somos mensageiros.
Na sua opinião, a música lusófona é reconhecida internacionalmente?
Podia ser muito mais se acontecesse o que acabei de dizer. Se os ministros da Cultura dos PALOP considerassem os artistas que andam no mundo… Eu tenho 40 anos de aeroportos, de estar nas embaixadas a pedir vistos para cantar pelo meu país. Isso tem de acabar.
Em 2017 foi condecorado, por Marcelo Rebelo de Sousa, com o grau de Comendador da Ordem do Mérito horas antes de o Presidente da República fazer uma visita a Cabo Verde. Como reagiu quando soube da distinção?
Fiquei surpreendido, não esperava. Há muitos artistas aqui, felizmente. Talvez dado o trabalho que eu tenho feito também juntamente com muitos cantores portugueses e angolanos, e também ser a pessoa que sou… se calhar, fui distinguido por isso. Em Espanha, na Inglaterra ou nos Estados Unidos da América recuso sempre falar em inglês, falo sempre em português. E, então, lembro-me de uma história do Presidente Marcelo: “Estava em Espanha, como deputado, vinha no carro e ouvi o senhor Tito dar uma entrevista em Madrid e a falar tudo em português.” Eles perguntavam em espanhol e eu respondia em português. A resposta que dei ao senhor Presidente foi simples: “Só tenho duas línguas: português e crioulo.”
Estamos a fazer uma entrevista a poucas horas do seu primeiro concerto de celebração dos 40 anos de carreira no Coliseu dos Recreios [NDR: aconteceu ontem], em Lisboa, e neste sábado vai estar no Coliseu do Porto para o segundo espetáculo desta efeméride. Mas gostava de saber é como está a pensar festejar os 50 anos de carreira.
Se Deus quiser e eu cá estiver, quero fazer dois grandes concertos na via pública, um em Lisboa e outro em Cabo Verde – em São Vicente. Esse é o meu grande sonho.
o novo sapo